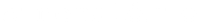Scorsese também nos fala que cinema é a arte do tempo, dos 24 quadros por segundo. Não é à toa que há tantos relógios aparecendo durante a projeção. Tempo e memória são temas que dependem tanto um do outro neste filme, que o simbolismo das engrenagens serve tanto a essa leitura quanto a outras – como a de que cada pessoa tem seu propósito dentro da grande máquina que é o mundo, na visão de Hugo.
Mais que um diretor, Scorsese é um preservador da sétima arte. Presidente da World Cinema Foundation, ele sempre faz questão de falar publicamente sobre a importância da recuperação e restauração de filmes que correm o risco de serem perdidos não só pela deterioração física provocada pelo tempo, mas também pelo simples esquecimento a que alguns diretores são condenados pelo próprio público.
Em “A Invenção de Hugo Cabret”, que é baseado no livro homônimo de Brian Selznick, Scorsese fala desse processo de esquecimento e da importância da memória, utilizando um caso verídico: o do cineasta francês Georges Méliès, precursor do cinema narrativo e do uso de efeitos especiais. Você certamente o conhece pelo clássico de 1902 “A Viagem à Lua”, mas talvez não saiba que você só conhece esse filme porque alguém, lá atrás, resgatou Méliès do esquecimento.
Ao mesmo tempo, Scorsese dá outras duas funções à “A Invenção de Hugo Cabret”. Por se tratar de seu primeiro filme realmente apropriado para o público infantil, trata-se de uma verdadeira aula introdutória de cinema, capaz de suscitar nas crianças uma verdadeira paixão pela sétima arte e reavivar nos adultos um sentimento que pode estar apagado. É um filme sobre o poder da História, com “H” maiúsculo, que está não apenas nos filmes, mas nos livros e nos museus.
Além disso, este é o primeiro filme 3D de Scorsese, e o diretor dá um novo sentido ao uso da tecnologia que, desde “Avatar”, não tinha um representante realmente bom. Mas “bom” é pouco para o que Scorsese faz aqui. Como um verdadeiro apaixonado por cinema, era natural que ele abraçaria forte as possibilidades que o 3D oferece tanto em trazer o filme para “fora” da tela quanto em levar o espectador para “dentro” dela.
No primeiro aspecto, Scorsese, diferente da maioria dos diretores que já usaram o 3D, é bem mais comedido e não “joga” coisas no espectador. Apenas em um ou outro momento algum objeto é apontado num ângulo que o faz “saltar” em nossa direção. O melhor uso, neste sentido, surge no lado lúdico – o focinho do Dobermann que acompanha o guarda interpretado por Sacha Baron Cohen talvez seja o melhor exemplo – e no lado inventivo e experimental, quando Scorsese decide apontar o feixe da projeção de uma sala de cinema a que Hugo leva sua amiga Isabelle (Chloë Moretz) diretamente contra o feixe real, que nos mostra o filme. Scorsese brinca.
Mas é na segunda capacidade do 3D onde Scorsese realmente se esbalda. Ele não só retoma o uso dos magníficos planos-sequências que marcam vários de seus melhores trabalhos, como também explora a profundidade de campo que um plano plongée, por exemplo, oferece e que não ficava tão evidente em seu modo tradicional. Da mesma forma, Scorsese usa o 3D para potencializar as múltiplas camadas dos planos gerais (não visualizamos só frente-meio-fundo, mas o todo em uma profundidade contínua).
Sem falar na própria forma como ele nos permite enxergar “dentro” da tela: logo no começo, quando Hugo observa as pessoas por trás dos relógios da estação de trem, o personagem de Ben Kingsley é enquadrado dentro de um dos números do relógio, meio desfocado, mas o ângulo escolhido por Scorsese e seu fotógrafo Robert Richardson funciona de tal forma que possibilita ao espectador ter o reflexo de esticar o pescoço para olhar lá dentro daquele buraco e reparar no senhor que está sentado lá embaixo.
Em contraponto, que ousadia tomar todo o quadro para exibir “A Chegada do Trem na Estação” dentro de um filme 3D, exatamente com o propósito de mostrar que o “efeito 3D” estava lá desde o início, como um espanto natural do espectador.
É aí onde o 3D assume seu papel narrativo em “Hugo”. No momento em que Papa Georges (Kingsley) observa um desenho feito à mão se movimentar no bloco de notas, ao passar as páginas rapidamente como num flipbook, vemos que o desenho se tridimensionaliza – ou seja, é como se a cabeça do autômato fosse real e estivesse se virando para encarar (e assombrar) aquele senhor. Já em outro momento, vemos trechos de “A Viagem à Lua” projetados numa tela e as cenas também estão em 3D – porque, ali, o público é convidado não apenas a experimentar a sensação de quase ser atropelado pelo trem dos irmãos Lumière chegando à estação, mas a efetivamente entrar naquele mundo, a participar daquele sonho, que é o que Méliès queria.
Scorsese conseguiu provocar esse efeito em mim já na sequência pré-título, que na prática poderia funcionar como um curta e eu já sairia feliz do cinema. Ao final do filme, vi que seria muito difícil não amar “Hugo”, assim como é difícil não amar Scorsese e, logo, não amar cinema. O filme fala disso também.
A INVENÇÃO DE HUGO CABRET (Hugo, 2011, EUA). Direção: Martin Scorsese. Roteiro: John Logan (baseado no livro de Brian Selznick). Fotografia: Robert Richardson. Montagem: Thelma Schoonmaker. Música: Howard Shore. Produção: Johnny Depp, Tim Headington, Graham King, Martin Scorsese. Com: Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Ray Winstone, Emily Mortimer, Christopher Lee, Helen McCrory, Michael Stuhlbarg, Frances de la Tour, Richard Griffiths, Jude Law. Distribuição: Paramount Pictures. 126 min

Editor-chefe e criador do Cinematório. Jornalista profissional, mestre em Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG e crítico filiado à Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) e à Fipresci (Federação Internacional de Críticos de Cinema). Também integra a equipe de Jornalismo da Rádio Inconfidência, onde apresenta semanalmente o programa Cinefonia. Votante internacional do Globo de Ouro.